Carlos Fico é professor titular de História do Brasil da UFRJ. Dedica-se à história do Brasil republicano, com pesquisas sobre a ditadura militar no Brasil e na Argentina. É bacharel em história pela UFRJ (1983), mestre em história pela UFF (1989) e doutor em história social pela USP (1996). Foi “Cientista do Nosso Estado” da FAPERJ entre 2003 e 2006 e recebeu o Prêmio Sergio Buarque de Holanda de Ensaio Social da Biblioteca Nacional em 2008. Publicou, entre outros: Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar (Rio de Janeiro: Record, 2004); Como eles agiam: os subterrâneos da Ditadura Militar – espionagem e polícia política (Rio de Janeiro: Record, 2001); O grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo – o governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008).
Sibila: Jacob Gorender enfatiza, de acordo com o senhor, que, no pré-64, engendrou-se uma real “ameaça à classe dominante brasileira e ao imperialismo”: “O período 1960-1964 marca o ponto mais alto das lutas dos trabalhadores brasileiros neste século [XX]. O auge da luta de classes, em que se pôs em xeque a estabilidade institucional da ordem burguesa sob os aspectos do direito de propriedade e da força coercitiva do Estado. Nos primeiros meses de 1964, esboçou-se uma situação pré-revolucionária e o golpe direitista se definiu, por isso mesmo, pelo caráter contrarrevolucionário preventivo”. Segundo o senhor, “Gorender consolidou, em traços gerais, duas das principais linhas de força interpretativas sobre as razões do golpe: o papel determinante do estágio em que se encontrava o capitalismo brasileiro e o caráter preventivo da ação, tendo em vista reais ameaças revolucionárias provindas da esquerda”. O senhor concorda com essa visão do golpe? Ela não tem algo de irrealista? Havia, de fato, ameaças reais ao poder e ao statu quo vindas da esquerda? A conjuntura externa, com as grandes tensões da Guerra Fria, não foi uma lente que deformou as percepções políticas da época? Paradoxalmente, este não é o argumento central dos que justificam o golpe?
Carlos Fico: Uma ressalva inicial: quando mencionei que Gorender ajudou a consolidar essa interpretação, não disse que concordava com ela. Gorender foi um grande historiador, um autodidata. Eu o respeito muito, convivi com ele e o convidei a prefaciar um de meus livros. Seu trabalho sobre as esquerdas é muito completo e sereno. Ele, entretanto, supervalorizou a dinâmica social imediatamente anterior ao golpe, viu-a como “pré-revolucionária”. Não era. Havia muitas greves e muitas demandas das classes trabalhadoras e dos pobres em geral. Goulart lidou com tais demandas moderadamente – ao contrário do que afirma, aliás, a memória que se consolidou sobre ele –, mas, ainda assim, não deixou de ser um veículo para a sua expressão. Eu não diria que havia um contexto pré-revolucionário, de modo algum. Mas a elite e as classes médias urbanas, em termos gerais, entraram em pânico diante da possibilidade de algumas míseras conquistas sociais serem efetivadas. Portanto, nós podemos dizer que a suposição de que havia uma revolução socialista em curso é irrealista, mas não podemos desconhecer essa dinâmica social marcada por grande agitação social de trabalhistas e pobres em geral e, de outro lado, por esse medo e resistência de alguns setores às “transformações” (digamos assim para simplificar). Desse modo, quando se questiona a existência de “ameaças reais ao poder e ao statu quo vindas da esquerda”, precisamos qualificar a discussão: se se está supondo a ideia de “ameaça” como equivalente à possibilidade de implantação de um regime socialista, a resposta muito fácil é “não havia essa ameaça”. Mas, como já sugeri, havia a “ameaça” de que os muito pobres e pobres deixassem de sê-lo tanto – e isso sempre foi (e continua sendo) uma “ameaça” para as elites e para setores expressivos da chamada classe média. De fato, muitos militares argumentam que o golpe foi dado para prevenir suposta iniciativa golpista de Goulart, o que é totalmente infundado quando consideramos as evidências empíricas existentes. Curiosamente, nesse particular, ou seja, no que diz respeito à defesa da tese de um “contragolpe preventivo”, Gorender e, por exemplo, o coronel Jarbas Passarinho (ex-ministro de vários governos militares) possuem posições assemelhadas. Os historiadores, entretanto, estamos muito longe de nos surpreendermos com esse tipo de aparente contradição, especialmente quando se trata de considerar as incongruências do marxismo e os pretextos de militares latino-americanos para intervir na dinâmica política de seus países durante o período da Guerra Fria.
 Sibila: Gorender escreveu: “O núcleo burguês industrializante em 1964 e os setores vinculados ao capital estrangeiro perceberam os riscos dessas virtualidades das reformas de base e formularam a alternativa da ‘modernização conservadora’”. A “modernização conservadora” não foi uma criação do governo militar, mas é uma marca da história brasileira, incluindo a Proclamação da República pelo exército, a República Velha, o governo Vargas, o governo JK. Hoje, o Brasil de 2014 tem um perfil agrário e exportador, sem uma burguesia industrial fortalecida. Ao mesmo tempo, desde os governos FHC e Lula e incluindo o governo Dilma, há uma proclamada ascensão econômica das classes mais baixas, mas restrita ao consumo, e excluindo todos os fatores da cidadania moderna, a começar da educação. Esta seria uma das caras reatualizadas da modernização conservadora à brasileira em geral, e de 1964 em particular?
Sibila: Gorender escreveu: “O núcleo burguês industrializante em 1964 e os setores vinculados ao capital estrangeiro perceberam os riscos dessas virtualidades das reformas de base e formularam a alternativa da ‘modernização conservadora’”. A “modernização conservadora” não foi uma criação do governo militar, mas é uma marca da história brasileira, incluindo a Proclamação da República pelo exército, a República Velha, o governo Vargas, o governo JK. Hoje, o Brasil de 2014 tem um perfil agrário e exportador, sem uma burguesia industrial fortalecida. Ao mesmo tempo, desde os governos FHC e Lula e incluindo o governo Dilma, há uma proclamada ascensão econômica das classes mais baixas, mas restrita ao consumo, e excluindo todos os fatores da cidadania moderna, a começar da educação. Esta seria uma das caras reatualizadas da modernização conservadora à brasileira em geral, e de 1964 em particular?
Carlos Fico: Eu não gosto de nenhuma dessas generalizações. Gorender e outros marxistas (como o saudoso e brilhante René Armand Dreifuss) exageraram o papel propositivo desse agente histórico, quase uma enteléquia, o “núcleo burguês industrializante” (que Dreifuss chamava de “bloco multinacional e associado”). Na realidade, as coisas foram muito desorganizadas. Havia poucos empresários brasileiros, na época, que fossem politicamente propositivos. O golpe de 1964, como muitos outros “fatos históricos” da mesma natureza, decorreu do medo – que já mencionei na primeira resposta. Os empresários brasileiros, hoje em dia, são o que são: imagine em 1964! “Modernização conservadora” é um conceito interessante de Barrington Moore Jr., mas não sei se é o mais adequado para o caso brasileiro. Os militares divergiam sobre o que fazer no que diz respeito à economia. Na verdade, não tinham qualquer projeto, exceto as especulações de alguns “iluminados”, como Roberto Campos, que pontificavam em organizações do tipo do IPES/IBAD. Eles – os militares – gostaram quando a imprensa internacional classificou o crescimento do PIB, entre 1969 e 1974, como “milagre brasileiro”, mas não sabiam muito bem o que isso significava em relação às diversas “teorias” sobre a industrialização brasileira. Não sabiam mesmo. Ficaram incomodados quando a inflação voltou a crescer e sentiram que deviam cair fora quando a inflação e a dívida externa fugiram ao controle. Nada muito além disso. Eles, simplesmente, não sabiam o que estavam fazendo em termos econômicos.
Eu detesto ter de admitir que muitas decisões históricas foram tomadas porque, naquele momento, as circunstâncias possibilitaram isso ou aquilo. Não há um sentido inexorável na história. Ninguém se lembra mais de que Costa e Silva chegou ao poder como um “presidente humanista”, distinto do “ditador” Castelo Branco. Dizia-se que Costa e Silva combateria a crise econômica sem ignorar o lado humano do problema… Ele chorou, em um discurso, ao falar de um suposto “humanismo social”. Era, realmente, um homem muito limitado. É uma pena que não tenhamos boas biografias sobre esses personagens.
Eu não creio que o Brasil, hoje, tenha uma burguesia tão frágil como a de 1964. Há muitas evidências empíricas que demonstram o contrário, até mesmo por conta da vitória – inexorável? – do projeto de internacionalização da economia e da decorrente competição.
Também não posso concordar que não tenha havido avanços significativos no tocante à educação. Houve. São insuficientes. O principal obstáculo para o avanço da “cidadania” é a própria sociedade brasileira. Eu lamento muito que energúmenos continuem sendo eleitos como deputados federais e senadores para o Congresso Nacional. Isso decorre, evidentemente, da falta de cultura política e de educação formal, mas essa é a realidade. Para os pacientes, o cenário é otimista pois há fortes indicadores de que nos próximos 10, 20 anos isso mudará um pouco, deve melhorar. A cidadania não é “concedida” pelo Estado, nem pelo governo, muito menos por FHC, Lula ou Dilma. No que se refere à questão do consumo, eu diria que a possibilidade de consumir frango ou iogurte não é desprezível. Eu estudei as principais manifestações sociais da Primeira República (1889-1930) e elas diziam respeito à “carestia da vida”, ao preço alto do pãozinho e ao aumento das tarifas de bonde. Não mudou muito. Diversas manifestações sociais violentas ocorreram durante a Primeira República contra esse tipo de coisa, a “carestia da vida”, a corrupção etc. Exatamente como as manifestações do ano passado. Eram os “quebra-quebras” promovidos por “baderneiros”, que hoje são chamados de “vândalos”.
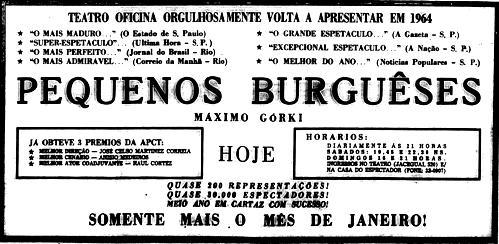 Sibila: Alguns consideram que sem a guerrilha de 1969 a 1975 (pós AI-5), incluindo o Araguaia, não haveria redemocratização formal no país. Sem as torturas e outros fatores (governo Carter) a presença dos militares se prolongaria no tempo. O senhor concorda com esta tese? Ela não simplifica tudo em uma variável, talvez hipertrofiada e inteiramente externa ao regime, omitindo, por exemplo, os conhecidos embates dentro da cúpula militar, justamente quanto à questão da necessidade da redemocratização? Há algum documento estratégico do governo militar que contemple a perspectiva de uma ditadura indefinida?
Sibila: Alguns consideram que sem a guerrilha de 1969 a 1975 (pós AI-5), incluindo o Araguaia, não haveria redemocratização formal no país. Sem as torturas e outros fatores (governo Carter) a presença dos militares se prolongaria no tempo. O senhor concorda com esta tese? Ela não simplifica tudo em uma variável, talvez hipertrofiada e inteiramente externa ao regime, omitindo, por exemplo, os conhecidos embates dentro da cúpula militar, justamente quanto à questão da necessidade da redemocratização? Há algum documento estratégico do governo militar que contemple a perspectiva de uma ditadura indefinida?
Carlos Fico: Havia uma retroalimentação entre a chamada luta armada e a repressão do regime militar. Isso me parece incontestável. Na medida em que a desmontagem do aparato repressivo foi o principal obstáculo para a redemocratização, parece-me que a luta armada retardou esse processo. Essa é uma questão delicada, um tema tabu, como eu tenho dito. Após eventos históricos traumáticos (nazismo, genocídios, ditaduras etc.) é muito comum o surgimento de “memórias confortáveis” que, usualmente, constroem narrativas apaziguadoras, em geral garantindo que a “sociedade” nada teve a ver com aquilo e, mais do que isso, resistiu bravamente. Charles De Gaulle construiu memória emblemática nesse sentido a respeito dos “heróis da resistência” à ocupação nazista. Todos os franceses teriam resistido, o que, evidentemente, é falso. No caso da luta armada durante o regime militar, prevalece entre nós a leitura romantizada segundo a qual “jovens heroicos” resistiram à ditadura. Trata-se de evidente simplificação. Os historiadores desses eventos lidamos com isso com muita cautela: temos empatia em relação às vítimas, mas não podemos sucumbir às leituras confortáveis. A resistência democrática posterior ao período de auge das ações armadas motivou diversos setores e culminou nas “Diretas, Já!”. Entretanto, não foi capaz de alterar o rumo traçado pelos estrategistas da abertura. A partir das crises do petróleo, da inflação e da dívida externa, não havia nenhum militar que advogasse o prolongamento da ditadura, mas havia o problema do “revanchismo” e a questão da desmontagem do aparato repressivo.
 Sibila: O que significa a presença de José Sarney da udn até hoje, passando pelo golpe de 1964? Com ele liderando a transição, não se fez uma Comissão da Verdade. Como o senhor explica uma transição para a democracia sem uma Comissão da Verdade e sem a punição dos militares e dos “excessos” (formalmente crimes) dos aparelhos de esquerda? O assassinato, por exemplo, do empresário Henning Boilesen, foi excessivo ou justo? Pode uma execução extrajudicial ser justa? Se o for, quando praticada pela esquerda, não o será também quando praticada pelo aparelho de Estado e vice-versa?
Sibila: O que significa a presença de José Sarney da udn até hoje, passando pelo golpe de 1964? Com ele liderando a transição, não se fez uma Comissão da Verdade. Como o senhor explica uma transição para a democracia sem uma Comissão da Verdade e sem a punição dos militares e dos “excessos” (formalmente crimes) dos aparelhos de esquerda? O assassinato, por exemplo, do empresário Henning Boilesen, foi excessivo ou justo? Pode uma execução extrajudicial ser justa? Se o for, quando praticada pela esquerda, não o será também quando praticada pelo aparelho de Estado e vice-versa?
Carlos Fico: A presença de Sarney, entre outros, é expressão concreta do traço marcante da cultura política brasileira conhecido como “conciliabilidade”. Foi esse traço que definiu a transição brasileira e, por isso, não houve punição dos militares e dos civis responsáveis por diversos crimes. Não houve uma clara ruptura com o regime militar e, por isso, chamo nossa transição de inconclusa. Muitos gostam de comparar a situação brasileira com a argentina, mas são processos históricos completamente distintos. Lá, o traço marcante da cultura política era o da violência e houve clara ruptura assinalada por meio da guerra das Malvinas e do julgamento das juntas militares. Aqui não houve nada. A memória argentina em relação ao regime militar é marcada pelo trauma ante a violência. A memória brasileira, ao menos no campo das esquerdas, é assinalada pela frustração diante da ausência de ruptura e da impunidade. Podemos gostar ou não disso. Nos últimos anos, surgiram projetos no Congresso Nacional para revogar o chamado “perdão aos torturadores” da Lei da Anistia de 1979. Eles tiveram pouquíssima repercussão. Que significa isso? Provavelmente significa que a sociedade brasileira prefere que as coisas fiquem como estão. Se a Comissão Nacional da Verdade produzir um relatório impactante haverá alguma chance de mudança, mas a Comissão da Verdade hesita, dá sinais de perplexidade e falta de rumo (torço muito para estar enganado em relação a essa avaliação). Sobre a questão da “justiça com as próprias mãos”, eu não creio que o assassinato possa ser justo em nenhuma circunstância.

Sibila: A fragilidade do Poder Judiciário, do Ministério Público e da polícia decorre em parte da impunidade dos agentes de 1964?
Carlos Fico: No caso do Poder Judiciário e do Ministério Público, creio que não. Aliás, houve alguma melhora desde a Constituição de 1988. O fato de a morosidade e outras mazelas da Justiça estarem na pauta do dia é significativo e deve gerar mudanças, sempre lentamente, o que talvez seja um pouco exasperante. A polícia foi bastante atingida pelo regime militar, sobretudo as polícias militares. O éthos repressivo que caracterizou a repressão política a partir do levante comunista de 1935, isto é, a adoção da tortura e da violência brutal, intensificou-se durante o regime militar e tornou nossa polícia isso que aí está. A polícia trata respeitosamente os brancos que são bem remunerados e maltrata seus iguais.
Sibila: Considerando as teorias da Nova História e do culturalismo, gostaria que o senhor falasse um pouco de fatos como Sergio Paranhos Fleury ter sido guarda-costas de Roberto Carlos de 1965 a 1968 e guarda-costas de todo o pessoal da Jovem Guarda – criada pela agência de publicidade de Carlito Maia, irmão de Dulce Maia (da aln). Roberto Carlos que elogiou em 1973 o general Pinochet, chamando-o de “señor presidente, Don Augusto Pinochet”. Houve colaboração de artistas com o regime militar em geral e com a oban e o doi-codi em particular?
Carlos Fico: Colaboração é um termo muito forte. Se houve, foram poucos casos e não conheço nenhum significativo. Mas houve muita negociação e diversos equívocos. A negociação deu-se sobretudo na esfera da censura. Muitos artistas precisavam liberar suas obras e negociaram, nesse sentido, com a censura. Os equívocos foram diversos, decorrentes, talvez, de ingenuidade política, como deve ter sido o caso de Elis Regina, Pelé, Roberto Carlos e outros.
Sibila: Com o senhor avalia o fato de Fleury ter tido como amante, de 1977 a 1979, Eleonora Rodrigues, irmã de Raimundo Pereira (jornais Opinião e Movimento)? Essa promiscuidade percorre até hoje a sociedade e a cultura brasileira?
Carlos Fico: Não sei avaliar.
Sibila: Paris e Londres eram as referências gerais. Uma parte dos intelectuais seguia Paris (campo socialista) e outra, Londres (“pós-política”, experimentando música, sexo livre e marijuana, marcada pela contracultura, “subversiva” aos olhos dos militares). Parece que, ao longo do tempo, a linha londrina prevaleceu na cultura brasileira. O senhor concorda? Isso tem relação com 1964?
Carlos Fico: Não sei.
ABAIXO RESPOSTA CONJUNTA PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES
Sibila: Como o senhor vê o rebaixamento cultural brasileiro de hoje? Ele tem causas em 1964? Ou com a civilização global do espetáculo, na qual o entretenimento substituiu a cultura em si, na qual a arte se tornou uma arte simplificada e sem referências que perturbem sua recepção?
Sibila: Aprofundando a questão anterior, por que parece não haver mais condições para uma arte crítica no Brasil? Trata-se do fim das utopias, da globalização, do consumismo, do narcisismo “Facebook”, em suma, do “espírito da época”, incluindo certa “demissão da crítica”, em grande parte mercadologizada, como, aliás, a própria mídia, ou o modelo social e econômico brasileiro é parte necessária da resposta, de que o atrasado modelo “agrário”, isto é, agroexportador, é exemplo e talvez parte implicada?
Sibila: Por que não há políticas públicas para a cultura no Brasil? Por que a cultura é tratada como evento? Por que tantos eventos culturais vazios no Brasil? Por que tanta festa literária e tão pouca literatura relevante?
Sibila: João Cabral, em duas conferências famosas, de 1952 e 1954, já discorria sobre o problema do fatal distanciamento moderno do público de poesia. As coisas pioraram ou melhoraram, paradoxalmente, durante o regime militar? Alguns poemas de A rosa do povo, de Drummond (1944), “A rosa de Hiroshima” de Vinicius (1954) e livros como Poema sujo de Gullar, tiveram então alguma popularidade, pela temática politizada, e parecem ter conseguido manter a poesia dentro de um contexto de certa efervescência político-cultural reativa, que incluía o teatro (Arena, Opinião etc.), a música popular e mesmo a prosa, como no caso das coletâneas de contos brutalistas de Rubem Fonseca dos anos 1970. Se houve então melhora ou piora em relação à situação descrita por Cabral nos anos 1950, ou melhora pontual e piora geral, e outras variações, estas se amenizaram ou se acentuaram com a redemocratização à brasileira?
Sibila: À época do golpe militar, o mercado editorial brasileiro era bastante apequenado. Os números de novos títulos, de traduções, de leitores etc., eram mínimos, incluindo a esfera acadêmica. Além disso, serviam a uma pequena intelligentsia de escritores, críticos, intelectuais etc. Não havia nem um público de massa nem um público médio de literatura “média”, de mercado. Hoje este público está em formação e, segundo os otimistas, em ascensão, mas em detrimento daquela intelligentsia, hoje minguada em sua influência e mesmo em sua existência, substituída pelos algo fantasmáticos “formadores de opinião”. Concorda com esta avaliação, que parece seguir certo modelo brasileiro de ganhar por perdas?
Sibila: A literatura brasileira, hoje, cresce por diluição, em mais de um sentido, em meio a um mercado polimorfo e à convivência com a internet, seja no caso da publicação em e-books ou da reedição eletrônica e dos downloads, seja no caso de criações originais feitas na rede e para a rede, que podem ou não vir a ser publicadas em livro. Ao mesmo tempo, o mercado editorial em si também cresce, ainda que manco, pois centrado e concentrado em modismos mercadológico-literários. Mesmo a poesia encontra, apesar de muito pontualmente, espaços passageiros de grande presença, de é exemplo a recente publicação da obra poética completa de Paulo Leminski, que se tornou um best seller. Como pode, se pode, a literatura contemporânea voltar a ter alguma influência cultural? Neste caso, o período do regime militar ficará na história como seu último momento de presença forte, apesar de tudo?
Carlos Fico: É muito difícil, para um historiador, falar em “rebaixamento” cultural, embora eu compreenda claramente o que se quer dizer. É sempre muito difícil avaliar o tempo vivido – um dos maiores problemas para nós que lidamos com a história do tempo presente. Eu não sei o que virá como resultado dessa diluição das formas tradicionalmente valorizadas da cultura. São processos de duração relativamente longa e que têm pouca relação com a história política. Lembro-me de que havia, após o fim da censura do regime militar, grande expectativa ante a divulgação das obras vetadas: foi a chamada “crise das gavetas vazias”… Veja o caso da prosa de ficção. Eu, simplesmente, não consigo mais ler romances de novos autores (nacionais ou estrangeiros) pois tenho a impressão de que “já li tudo”. Nessas férias, um amigo me deu para ler um desses romances policiais, best seller internacional, em três volumes de cerca de 500 páginas cada. Li tudo aquilo em duas semanas, foi divertido e, ao final, tinha a impressão de ter visto um desses filmes bobos de ação que, entretanto, prendem nossa atenção com explosões e efeitos especiais. Ser um escritor, hoje, de prosa de ficção deve ser um grande desafio em função do absoluto esgotamento desse gênero. Não sei que solução possa haver para isso. Creio que não há. O mesmo pode ser dito de outras expressões artísticas, como a música erudita (e a dança em menor medida). Acho que a poesia tem boas chances, decorrentes das facilidades que advieram justamente de alguns vetores da diluição (internet etc.). Tenho visto experiências no campo da poesia provenientes de grupos sociais excluídos que são interessantes. É claro que elas não têm densidade estética ou elaboração formal sofisticada, mas a adoção da poesia como forma de expressão por esses grupos é significativa em si. E a poesia desse pessoal é bastante crítica, “politizada”, se é que isso é realmente um aspecto valorizador da poesia, algo que eu teria dificuldade de sustentar. Também deve ser muito difícil fazer crítica literária hoje em dia: eu jamais me aventuraria nesse campo porque provavelmente não haverá nada a dizer. Hoje, como referido, predomina o entendimento de que devemos fazer sucesso. Se você não é mencionado pela mídia, você não existe. Daí que prevaleça essa política tão superficial de “projetos” e “eventos”. Antes de qualquer coisa, é preciso ter uma forte “marca visual”, uma logomarca… Portanto, existem políticas públicas que financiam essas coisas. Por outro lado, não sei o que seria um evento cultural relevante hoje. Eu já fico muito feliz quando vejo, no Brasil, alguém lendo no metrô, mesmo que seja um livro de autoajuda ou de algum guru disso ou daquilo. A capacidade de discernir a partir da leitura é essencial, é transformadora, isso não mudará tão cedo. Leitura de seja lá o que for. Como historiador do tempo presente, estou muito interessado no futuro – se me permitem esse jogo de palavras – porque há muitas evidências de que vivemos uma dessas terríveis “fases de transição” (um conceito tremendamente escorregadio) durante as quais não sabemos bem o que está acontecendo e, muito menos, o que virá. Há, entretanto, muitas evidências de que vivemos uma transição. Por exemplo, temos pesquisas sérias que mostram o caráter ainda incipiente da informática, da robótica, da cibernética etc. Possibilidades espetaculares de comunicação virão em breve. Elas, evidentemente, afetarão o campo das experimentações culturais. Aquilo que nos parece, hoje, veículo ou sintoma de diluição poderá se transformar em instrumento (vá lá a palavra) “revolucionário” de expressão no futuro.

Sibila: Se as mentalidades são mesmo prisões de longa duração, podemos afirmar que há uma característica histórica permanente na mentalidade brasileira? Qual?
Carlos Fico: O conceito de mentalidades é muito problemático justamente porque supõe a possibilidade dessas características permanentes, o que é muito difícil de sustentar sobretudo quando consideramos as clivagens sociais, isto é: haveria características permanentes e homogêneas nos diversos grupos sociais? Por outro lado, ele é irresistível. No caso brasileiro, parece haver alguns traços marcantes. Um deles já mencionei, a tendência à conciliação. Outro que me parece fundamental é o autoritarismo. O golpe de 1964, por exemplo, é visto por muitos analistas apenas como o evento inaugural do regime militar. Parece-me, entretanto, que ele foi muito mais do que isso já que se constituiu em expressão dessa tendência: houve apoio significativo da sociedade que aceitou uma solução autoritária para os problemas da época. Eu gostaria muito de poder afirmar que a sociedade brasileira não aceita, nem aceitará mais, soluções autoritárias para seus conflitos. Não me sinto muito seguro para fazê-lo.
[include-page id=”11046″]