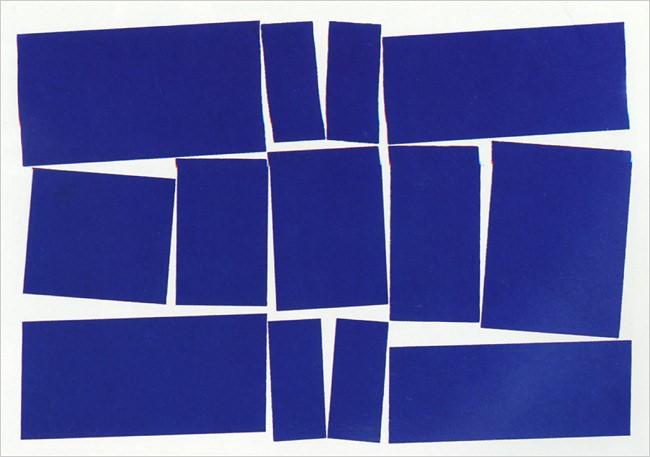
Me segura qu’eu vou dar um troço devia, segundo Waly Salomão, ser lido com olho-míssil e não com olho-fóssil. Seguindo essa indicação, tentei iluminá-lo através dos seus livros posteriores e vice-versa. A consideração sincrônica da obra de Waly pareceu-me revelar, por trás de uma fragmentariedade ostensiva, uma identidade fundamental de preocupações: se bem que, como se verá, uma identidade na antiidentidade. Aos meus olhos, essa descoberta pareceu confirmar o acerto da abordagem inicial.
Me segura qu’eu vou dar um troço (que doravante chamarei Me segura) foi publicado em 1972. Nos anos seguintes, Waly relatou muitas vezes as circunstâncias que ocasionaram a sua escritura. Em 1996, por exemplo, ele declarou:
Meu primeiro texto teve de brotar numa situação de extrema dificuldade. Na época da ditadura, o mero porte de uma bagana de fumo dava cana. E eu acabei no Carandiru, em São Paulo, por uma bobeira, e lá dentro eu escrevi “Apontamentos no Pav. 2”. Não me senti vitimizado, de ver o sol nascer quadrado. Para mim, foi uma liberação da escritura.[1]
Em 2002, ele resume a relação entre a prisão e a escrita, dizendo que “…ver o sol nascer quadrado, eu repito essa metáfora gasta, representou para mim a liberação do escrever, que eu já tentava desde a infância…”.[2]
Se, desde a infância, Waly já buscava a liberação que a escritura de Me segura viria a lhe proporcionar, então, de algum modo, a vida anterior a essa escritura devia ser por ele percebida como uma prisão ou um confinamento: confinamento do qual o Carandiru tornou-se o emblema. De que se trata? São muitas as possíveis prisões. Em texto sobre Me segura intitulado “Ao leitor, sobre o livro”, lê-se
sob o signo de PROTEU vencerás.
Por cima do cotidiano estéril
de horrível fixidez[3]
A prisão é aqui o “cotidiano estéril / de horrível fixidez”, de que a poesia deve libertá-lo. O cotidiano estéril é aquele que não conduz a nada além de si próprio, aquele que não se modifica, nem para o bem nem para o mal. É aquele que, submisso ao princípio da identidade, permanece sendo aquilo que é. De fato, o próprio eu pode tornar-se estéril – tornar-se uma prisão – quando se apega à identidade consigo mesmo. Tal é o tema de algumas interrogações que se encontram em Me segura:
Será o eu de uma pessoa uma coisa aprisionada dentro de si mesma, rigorosamente enclausurada dentro dos limites da carne e do tempo? Acaso muitos dos elementos que o constituem não pertencem a um mundo que está na sua frente e fora dele?
A radicalização desse questionamento ameaça também o princípio da contradição:
A idéia de que cada pessoa é ela própria e não pode ser outra não será algo mais do que uma convenção que arbitrariamente deixa de levar em conta as transições que ligam a consciência individual à geral?[4]
Ao se colocarem sob o signo de Proteu, deus grego que, como Waly já explicara em trecho anterior de “Ao leitor”,
recebera de seu pai, Posêidon, o dom da profecia e
a capacidade de se metamorfosear, o poder de
variar de forma a seu bel prazer,
a poesia e o poeta se opõem portanto tanto ao princípio da identidade quanto ao da contradição, pilares da lógica formal tradicional. Como o Empédocles de Hölderlin – e por razões semelhantes – também Waly, invertendo a resposta de Deus a Moisés, poderia dizer: “Eu não sou quem eu sou”.
Um quarto de século depois da publicação de Me segura Waly reafirma sua concepção da poesia como a libertação do confinamento no mundo convencional da identidade. No poema “Novíssimo Proteu, lê-se:
Uma cega labareda me guia
para onde a poesia em pane me chamusca
…
Vou onde poesia e fogo se amalgamam.
Sou volátil, diáfano, evasivo.
…
Escapo que nem dorso de golfinho
que deixa a mão humana abanando
sem agarrar nada.
…
A chama da metamorfose me captura.[5]
…
Mas exatamente de que modo a poesia proporciona a libertação a quem foi confinado? O desprezo pela fixidez do cotidiano, a rejeição dos princípios lógico-formais da identidade e da contradição, a vontade de abolir as fronteiras entre o eu e os outros e o fascínio pela metamorfose são características que trazem à mente a noção de carnavalização, tal como elaborada por Mikhail Bakhtin. Não são as únicas. Há também o senso de humor rabelaisiano de Waly, capaz de difundir um espírito sedutoramente anárquico e hilariante, mesmo nos ambientes mais formais e nas ocasiões mais solenes. Além do mais, ele exerceu durante alguns anos o cargo de diretor da Fundação Gregório de Matos, onde tinha a função de promover e coordenar o carnaval de Salvador. E eu mesmo posso atestar que ele se interessou por Bakhtin e leu os seus livros desde o início da década de 80, quando nós dois dirigimos um Núcleo de Atualidades Poéticas (NEP, como ele gostava de dizer, referindo-se maliciosamente à Novaia Ekonomítcheskaia Polítika de Lênin), na Oficina Literária Afrânio Coutinho, no Rio de Janeiro. Bem mais tarde, ele ironicamente aludiria ao crítico russo, ao empregar a expressão “polifônico”, no poema “Desejo & ecolalia”:
– O que você quer ser quando crescer?
– Poeta polifônico.[6]
Posto tudo isso, não creio que o termo carnavalização seja adequado para caracterizar a obra de Waly. Por um lado, essa expressão se tornou tão difusa que é usada a torto e a direito, tendo perdido praticamente quase toda virtude cognitiva. Nesse sentido popular, seria inútil empregá-la aqui. Por outro lado, no sentido em que Bakhtin a usa em relação, por exemplo, a Rabelais, ela não se aplicaria aos escritos poéticos de Waly. De fato, estes não podem ser primariamente qualificados nem de burlescos, nem de satíricos, nem de grotescos, nem de paródicos, nem se pode dizer que consistam na tradução para um registro erudito de uma concepção popular do mundo. Mais ainda: para Bakhtin, no limite ideal a poesia representa exatamente o oposto da prosa polifônica, dialógica ou carnavalesca.[7] Ora, a poesia de Waly se orienta precisamente por esse limite ideal onde se situa a grande poesia que ele lia e relia, de modo que, mesmo quando seus poemas se deleitam em incorporar expressões de origem popular ou até chula, fazem-no a partir do registro erudito – embora antiacadêmico – em que se originaram e ao qual pertencem. Penso por isso que, na verdade, aquilo que merecia o epíteto de carnavalizante era a pessoa ou a irradiante presença de Waly, inclusive na sua atividade de conferencista e nas suas aparições na televisão, mas não a sua poesia. Em relação a esta, prefiro empregar o conceito que ele mesmo elegeu: o de teatralização. É este que permite responder a questão que formulei acima, isto é, de que modo a poesia liberta quem se encontra confinado.
Waly conta, por exemplo, que pouco depois de sair do Carandiru sofreu outra prisão e foi torturado. Mas “o que interessa”, diz ele,
é que eu transformava aquele episódio, teatralizava logo aquele episódio, imediatamente, na própria cela, antes de sair. Eu botava os personagens e me incluía, como Marujeiro da Lua. Eu botava como personagens essas diferentes pessoas e suas diferentes posições no teatro: tinha uma Agente Loira Babalorixá de Umbanda, tinha um Investigador Humanista e o investigador duro. O que quer dizer tudo isto? Você transforma o horror, você tem que transformar. E isso é vontade de quê? De expressão, de que é isso? Não é a de se mostrar como vítima.[8]
A vítima é o objeto nas mãos do outro. Todos nós já fomos vítimas de diferentes coisas, em diferentes momentos; porém é preciso ativamente rejeitar esses momentos, relegando-os, ainda que recentíssimos, ao passado – ainda que recentíssimo. Quem aceita a condição de vítima no presente, quem diz: “sou vítima” está, ipso facto, a tomar como consumada a condição de não ser livre. É contra essa atitude de implícita renúncia à liberdade que Waly teatraliza sua situação. Ao fazê-lo, ele a transforma em mera matéria-prima para o verdadeiro drama, que é o que está a escrever. A vítima passa a ser apenas o papel de vítima, a máscara de vítima. Por trás da máscara, há o escritor. Mas isso não é tudo, pois o que é o escritor mesmo senão o papel de escritor? Que o escritor não passe de um personagem, indica-o o próprio nome com o qual Waly assina Me segura: Waly Sailormoon, o Marujeiro da Lua. Isso me lembra que ele gostava de contar algo que, sem dúvida, lera em Matisse, isto é, que os artistas japoneses do grande período mudavam de nome várias vezes na vida, para que o seu trabalho futuro não ficasse preso à reputação passada. Que Me segura não esteja sendo aqui objeto da retroprojeção de uma interpretação muito posterior atesta-o a declaração, que nele se encontra, de que “chego nos lugares e percebo as pessoas como personagens de um drama louco”.[9]
Não se deve cair no equívoco de supor que a teatralização de que estou falando consista simplesmente em opor ao mundo real o imaginário. Não é o delírio ou a alucinação que Waly aqui defende. Não se trata de opor o teatro ao não-teatro. O que ele julga é, antes, que tudo é teatro. Ao afirmar que percebe as pessoas como personagens de um drama louco, Waly não quer dizer apenas que as interpreta como tais, mas também que se dá conta de que são personagens de tal drama. Retomando a idéia do theatrum mundi, originada na antiguidade, cultivada na Idade Média, principalmente a partir do século XII, e transfigurada no início da época moderna, ele toma o mundo como um teatro pieno de meraviglie, nas palavras do historiador e estetólogo italiano do século XVII Emanuele Tesauro.[10]
Uma recapitulação, ainda que sumaríssima, da história dessa idéia pode ser útil para ajudar a caracterizar a especificidade da concepção de teatralização de Waly. Para o homem medieval, afirmar que este mundo é um teatro tem em primeiro lugar o sentido de desqualificar como ilusória a vida terrena e temporal. Na vida terrena, o ser humano assume o papel de homem ou mulher, rei ou mendigo, rico ou pobre, ladrão ou pontífice etc. A platéia é composta por Deus, pelos anjos e pelos santos.[11] Cada ator termina o seu papel num momento diferente, geralmente quando menos espera. Retiram-se então as suas máscaras e fantasias (inclusive o próprio corpo) e ele é submetido a um julgamento em que o destino da sua vida eterna – a vida verdadeira – é por Deus determinado ou como o céu (quer imediatamente, quer após uma estadia no purgatório) ou como o inferno. Para o céu vão os que, no teatro do mundo, manifestaram desejar o Criador, o céu e a eternidade e, na mesma medida, desprezar as criaturas, a terra e o teatro; para o inferno, simetricamente, os que manifestaram amar as criaturas, a terra e o teatro e, na mesma medida, ignorar o Criador, o céu e a eternidade. Assim, são Bernardo dizia: “Quem quer o celeste não gosta do terrestre. Quem anseia pelo eterno despreza o passageiro”.[12] Desse modo, a metáfora do teatro do mundo era, na Idade Média, empregada justamente por quem odiava o mundo e o teatro, para angustiar quem os amava. Na Espanha da Contra-Reforma, a peça El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, recupera e põe brilhantemente em cena essa concepção.[13]
Já Shakespeare, embora trinta e tantos anos mais velho do que Calderón, emprega a metáfora do teatro sem necessidade de fazer qualquer referência a uma vida transcendente. Assim, no trecho de As you like it em que Jaques, o melancólico, tendo afirmado que “todo o mundo é um palco / E todos os homens e mulheres meros atores”, passa a descrever, com os poucos traços do grande caricaturista, os vários papéis disponíveis – que são as sete idades, da infância à decrepitude, do ser humano –, percebemos que é para os seus olhos imanentes e interessados e, através deles, para os nossos, que o mundo funciona como um palco; de modo que, no teatro do mundo (como, aliás, no carnaval), estamos ao mesmo tempo no palco e na platéia. A melancolia de Jaques consiste naquele sentimento moderno que, segundo Klibansky, Panofsky e Saxl,[14] corresponde à intensificação de um eu axial, em torno do qual gira a esfera do prazer e da nostalgia. Dada a eliminação da dimensão da transcendência, tudo se reduz à imanência, e a justificação desta por aquela deixa de ser necessária ou possível. Com o que Waly chama de “extinção da esperança de recompensa”,[15] isto é, com o fato de que nada do que se faz no teatro do mundo espera retribuição em outro mundo, tudo vale – ou não vale – por si: tudo é gratuito, e Shakespeare ora toma essa gratuidade de modo cômico, enfatizando o caráter lúdico e onírico da vida (Our revels now are ended etc.: The tempest, ato 4, cena 1), ora de modo trágico, ressaltando o absurdo de uma vida destituída de sentido ulterior (Tomorrow and tomorrow and tomorrow etc.: Macbeth, ato 5, cena 1). Desde que tais trechos foram escritos, o seu esplendor tornou impossível uma utilização literária da metáfora do teatro do mundo que não os evocasse. Waly, que costumava citar o trecho de The tempest a que me referi, em que Próspero diz que “somos feitos do mesmo material de que são feitos os sonhos”,[16] não constitui exceção.
De toda maneira, o essencial da metáfora do teatro já se encontrava na Idade Média. Trata-se da representação de uma diferença, de uma clivagem (uma das palavras favoritas de Waly), de um abismo entre o homem e as máscaras que ele põe ou os papéis que representa. Ela significa que um homem não é necessariamente nenhum dos personagens que assume: que poderia ser outros; que poderia ser qualquer um; que, em relação ao homem mesmo, todos esses papéis são acidentais e, em princípio, poderiam ser trocados; que a peça mesma, em suma, poderia ser outra.
Mas há uma questão que ainda não foi esclarecida. Se tudo já é teatro, se até o fato é teatro, qual é o sentido da teatralização? Por que teatralizar o que já é teatro? É que o “fato” social é o teatro que desconhece o seu caráter teatral. O processo que leva a esse desconhecimento ocorre, por assim dizer, “naturalmente”. Shakespeare sabe e diz que tudo é teatro; entretanto, mesmo sem qualquer pretensão à exaustividade, o repertório exemplar oferecido pelas sete idades mencionadas por Jaques, em As you like it, acaba dando a idéia de que, ainda que sejam muitos, os papéis ou tipos disponíveis aos seres humanos são em princípio catalogáveis e constantes. Por quê? Porque é assim que eles, de fato, se dão empiricamente. Como a peça que se representa no teatro do mundo parece ser sempre a mesma, os atores ignoram que se trate de uma peça, isto é, de obra humana e artificial; ignoram, em outras palavras, que seja uma dentre muitas peças reais ou possíveis, e a tomam por natureza.
Também as ciências sociais empregam a metáfora do teatro – embora nem sempre explicitamente reconhecida como tal – pelo menos desde que Marx, no século XIX, falou de Charaktermaske (máscaras) para descrever os comportamentos dos seres humanos enquanto agentes de relações econômicas no interior de determinado modo de produção.[17] Embora considerem as “máscaras”, os “atores” ou “papéis” (roles) sociais como, em grande parte, relativos à cultura (ou, para Marx, ao modo de produção) em que se inscrevem, as ciências sociais os têm – com toda razão – como constantes no interior de cada cultura (ou de cada modo de produção). O fato de que a distribuição dos papéis muitas vezes precisa se articular com realidades biológicas e corporais (uma menina não pode, por exemplo, exercer o papel de “pai”) reforça uma certa constância transcultural. Um parágrafo de Me segura também contempla uma espécie de constância cultural:
O conjunto dos costumes de um povo é sempre marcado por um estilo; eles formam sistemas. Estou persuadido de que esses sistemas não existem em número ilimitado, e de que as sociedades humanas, como os indivíduos – nos seus jogos, seus sonhos e seus delírios –, jamais criam de maneira absoluta, mas se limitam a escolher certas combinações num repertório ideal que seria possível reconstituir.[18]
Na realidade, quando comparado tanto com o parágrafo imediatamente anterior quanto com o parágrafo imediatamente posterior a ele, percebe-se uma diferença gritante. Embora não se encontre demarcado por aspas, itálico ou qualquer outro artifício gráfico, ele se destaca claramente do resto do livro, como um corpo estranho. Efetivamente, trata-se de uma citação não explicitada de um trecho crucial de Tristes tropiques, livro em que Lévi-Strauss descreve os modos de vida e de pensamento de determinadas tribos indígenas brasileiras.[19] De toda maneira, o que importa é que, longe de reconhecer espontaneamente o teatro do mundo como teatro, o indivíduo, no interior da sua cultura, aceita os papéis sociais como dados ou fatos desde sempre já prontos: o que equivale, como foi dito, a tomá-los por natureza, não por teatro.
Ora, a atitude de Waly é diametralmente oposta a essa. Ele nunca esquece que o “fato” social é o teatro que se enrijeceu ou esclerosou a ponto de olvidar a sua natureza teatral: o teatro que se pretende superior ao teatro, que se pretende mais real do que o teatro. Na medida em que tem êxito em sua impostura, a “horrível fixidez” daquilo que podemos chamar de “teatro do fato” não somente – invocando os princípios da identidade e da contradição – expulsa ou degrada ao segundo plano as virtualidades ainda não realizadas do presente, que o superam em riqueza, mas, além disso, congela o movimento criativo que, em princípio, exige a abertura permanente a novas possibilidades interpretativas. Desse modo, impõe-se à vida um “cotidiano estéril”, circular, rotineiro, que jamais sai de si próprio nem se abre para experiências que não tenha previamente codificado. A teatralização walyniana funciona como a água da fonte de Mnemosune, o antídoto contra a água da fonte de Lete, do esquecimento naturalizante e confinante.
No décimo segundo capítulo do segundo livro de Dom Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura compara o mundo a um teatro e Sancho Panza responde: “Brava comparación, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas vezes…” Para o escudeiro, trata-se de um lugar comum, de uma banalidade que em nada afeta o seu comportamento pé-no-chão no dia-a-dia. No fundo, a banalidade do seu próprio modo de estar no mundo jamais lhe permitiria levar a sério a expressão que tantas vezes ouvira e que jamais, nem na primeira vez, tomara por mais do que um mero adorno de linguagem. Dom Quixote, ao contrário, a tomava literalmente. Nisso consistia a sua grandiosa loucura. Já Waly é plenamente consciente de que a teatralização e, portanto, a libertação que tem em mente se dão no nível simbólico e não no real. “Tudo afinal”, afirma ele, no Me segura, “se passa como um plano da aventura da linguagem”.[20] Ele sabe que a teatralização possível, sendo uma espécie de reapropriação simbólica, pelo poeta, da autoria da situação em que ele se encontra, se dá na sua obra. É o que o salva da loucura de Dom Quixote, pois, como diz uma bela frase de Foucault, la folie, c’est l’absence d’oeuvre”.[21]
Na revista Navilouca, editada em 1972 por Waly e Torquato Neto, havia aparecido um poema de Rogério Duarte que terminava dizendo:
POR ISSO NÃO ME POVOA MAIS
O FANTASMA DA POESIA[22]
Vinte e tantos anos depois, no livro Lábia, Waly responde: “já não me habita mais nenhuma utopia”; e continua, dizendo, entre outras coisas:
animal em extinção,
quero praticar poesia
– a menos culpada de todas as ocupações.
…
meu desejo pragmático-radical
é o estabelecimento de uma reserva de ecologia
– quem aqui diz estabelecimento diz escavação –
que arrancará a erva daninha do sentido ao pé-da-letra,
capinará o cansanção dos positivismos e literalismos,
inseminará e disseminará metáforas,
cuidará da polinização cruzada,
cultivará hibridismos bolados pela engenharia genética
…
olhar o que é,
como é, por natureza, indefinido.[23]
A frase sobre a poesia ser a menos culpada de todas as ocupações é extraída de uma carta em que Hölderlin explica à mãe que pretende dedicar a vida à poesia.[24] É o que Waly também diz tencionar fazer. Destituído de utopia, ele quer usar a realidade positiva como a matéria-prima ou o rascunho de uma obra poética que prefere “olhar o que é, / como é, por natureza, indefinido” – do que olhar apenas a realidade positiva mesma, correlata do “sentido ao pé-da-letra… cansanção dos positivos e literalismos”. Assim, a sua poesia se encontra, como ele afirma em “Editorial”, também do livro Lábia, “sempre voraz atrás de novas camadas de leituras, de interpretações do mundo inconclusivas e inconcludentes, pois não há interpretação finalista do mundo”.[25] Finalista também tem aqui, sem dúvida, o sentido de definitiva. No mesmo texto, um pouco adiante, ele fala de “desprogramar bulas e posologias prévias”.[26] O movimento de libertação de Waly, pela sua própria exuberância poética, tanto denuncia e supera a pobreza do teatro do fato quanto a desnuda, ao mesmo tempo em que revela o seu caráter cripto-teatral.
A quem interessa o empobrecimento da vida? O segundo capítulo de Me segura, intitulado “Apontamentos do Pav 2”, fortemente impregnado de idéias nietzschianas, sugere que tal mundo corresponde à
“felicidade” que imaginam os impotentes, os obstruídos, os de sentimentos hostis e venenosos, a quem a felicidade aparece sob a forma de estupefação, de sonho, de repouso, de paz, numa palavra, sob a forma passiva.[27]
Algumas páginas em seguida, no mesmo capítulo, Waly exalta os que, ao contrário, demonstram “desprezo da comodidade do bem-estar da vida”. Quase trinta anos depois, a mesma atitude reaparece no poema cujo título, “Mascarado avanço” faz uma referência irônica às palavras do jovem Descartes, filósofo tão clássico e tão francês que mal nos lembramos de que tenha vivido na aurora do mundo barroco: Larvatus prodeo scaenam mundi [28] (“mascarado avanço ao palco do mundo”).[29] O poema diz:
Ela desinfla o mal-estar
na civilização.
Ela prescinde da felicidade
dos bem postos na vida.
Quanto mais na lida diária
o Tedium Vitae preside
tanto mais
eu e ela nos fundimos extáticos,
crentes da seita dos dervixes girantes…[30]
A quem se refere o pronome “ela”? A muita coisa, sem dúvida, mas certamente em primeiro lugar à poesia. A seita dos dervixes girantes foi fundada pelo pensador e poeta muçulmano do século XIII, Rumi, segundo o qual, através de um ritual chamado sema, que inclui uma dança em que o dançarino gira em torno do seu próprio eixo, a alma se liberava de seus laços mundanos. Aqui, é a poesia que o livra do tédio da vida “dos bem postos”, isto é, dos acomodados, dos que aceitam de bom grado o mundo tal como dado. Literalmente, “dervixe” significa “porta”. É de Rumi também a epígrafe do poema “Sargaços”, de Lábia, que diz: “Fatalismo significa dormir entre salteadores”. Esse poema exalta a criação como sendo o oposto da passividade timorata:
Criar é não se adequar à vida como ela é,
Nem tampouco se grudar às lembranças pretéritas
Que não sobrenadam mais.[31]
Aqui, como em outros poemas, o poeta rejeita a concepção corriqueira da memória. Da palavra “saudade”, orgulho tradicional da língua portuguesa, ele diz:
SAUDADE é uma palavra
Da língua portuguesa
A cujo enxurro
Sou sempre avesso
SAUDADE é uma palavra
A ser banida…[32]
Tanto no poema “Carta aberta a John Ashbery”[33] quanto na abertura do livro Lábia proclama-se que “a memória é uma ilha-de-edição”. Isso quer dizer que a memória não se reduz a um registro passivo de traços ou dados do passado. Ao contrário, o que temos por “dado” é já desde sempre o resultado da atividade interpretativo-construtiva – de seleção, corte, cópia, colagem etc. – efetuado por um processo de edição ou montagem. O passado que se pretende objetivamente dado é apenas o resultado de um processo de edição “esquecido” (ou, ele mesmo, “editado”). É esse esquecimento que faz com que aquilo que não passa de um dos infinitos passados possíveis acabe aparecendo como o único verdadeiro. Tomado desse modo, o passado é mais uma prisão, para o poeta.
No poema “Fábrica do poema”, lê-se:
…
pois a questão-chave é:
sob que máscara retornará o recalcado?
(mas eu figuro meu vulto
caminhando até a escrivaninha
e abrindo o caderno de rascunho
onde já se encontra escrito
que a palavra “recalcado” é uma expressão
por demais definida, de sintomatologia cerrada:
assim numa operação de supressão mágica
vou rasurá-la daqui do poema.)
pois a questão-chave é:
sob que máscara retornará?[34]
Para o poeta, a questão chave não é, portanto, o que é que foi recalcado, mas sob que máscara retornará. A questão-chave não pode ser respondida com um mergulho num passado pronto, onde se encontraria a verdadeira face daquilo que retorna; nem com desmascaramento algum. Ao invés de retirar a máscara, o que o poeta retira é o que estava por trás da máscara. O que menos importa é exatamente o que foi recalcado, junto com a palavra “recalcado”, que ele, num ato poético – mais precisamente, num ato de liberdade poética, rasura do poema. O que mais importa é a invenção da máscara, o mascaramento, a mascarada.
Uma seção do livro Gigolô de bibelôs se intitula “Teste sonoro”, e é composta de seis “Relevos”, de 0 a 5. O “Relevo 0” se chama “Anamnésia: Saliva prima”. Começa com:
eu nasci num canto
eu nasci num canto qualquer duma cidade pequena fui pequeno
qualquer duma cidade pequena fui pequeno depois nasci de novo numa cidade maior depois nasci de novo numa cidade maior dum modo completamente diverso do…
Continua, com pequenas variações cumulativas, e termina:
pessoa que vai variando seu local de nascimento uma pessoa variando se
variando uma variada de vários de avião de viagem de avião de
avião de viagem de avião de de de de[35]
Com efeito, a liberação do poeta se dá através de uma anamnese dupla que a um só tempo lembra ser a memória uma ilha de edição e reinventa, no poema, o passado. Aqui, como se trata de poesia lírica, o poema reinventa o passado pessoal: observe-se contudo que se trata de uma pessoa absolutamente geral, de uma persona que poderia ser usada por qualquer um. Na poesia épica, essa reinvenção do passado é, afinal de contas, o que Homero faz com o passado da Grécia, Virgílio com o de Roma, Camões e Fernando Pessoa com o de Portugal. É, portanto, a grande tradição poética que funciona como um processo de edição.
A noção de uma memória não meramente receptiva, mas constitutiva, que é, sem dúvida, a memória em operação no Me segura, já se encontra tematizada no poema “Nota de cabeça de página”, de Gigolô de bibelôs:
Contrariando o ditado latino e a canção brasileira,
RECORDAR NÃO É VIVER.
Segundo nós dois, eu e a Gertrude Stein.
A composição enquanto PRESENÇA dalguma coisa
e essa alguma coisa
SURGE
dentro da composição através dela pela primeira única vez[36]
…
Não terá escapado ao leitor que o processo de edição cumpre, em relação ao passado, a mesma função que a teatralização, em relação ao presente. Tanto a edição quanto a teatralização negam que o dado, o fato, o imediato, o espontâneo ou o natural constituam a última realidade. Ao contrário, o espontâneo e a natureza são rebaixados, tanto pela edição quanto pela teatralização, a mera matéria-prima. Antes desse rebaixamento, a matéria prima constitui uma armadilha ou uma prisão. No último verso do poema “Nota de cabeça de página”, o poeta clama por “uma não-naturaleza still alive”, num verso já, ele mesmo, desnaturalizado pela mescla de línguas de que é composto. E a epígrafe do poema “A bela e a fera”, de Tarifa de embarque,[37] diz:
Orestes: Sou estranho para mim mesmo, sei. Fora da natureza, contra a natureza, sem desculpa, sem outro recurso senão eu. Mas não voltarei a estar sob o jugo da lei: estou condenado a não ter outra lei senão a minha.
– Jean Paul Sartre As moscas.
Penso que é essa rejeição do espontâneo e da natureza que se encontra no fundo das metáforas do teatro e da ilha-de-edição, que tomo como fundamentais para o entendimento da poesia de Waly. Dela decorrem algumas das características diferenciais da sua obra poética. Ela permite esclarecer, por exemplo, por que ele sempre, como diz em Me segura,[38] torceu o nariz para o surrealismo: é que nada poderia ser mais oposto à sua concepção antinaturalista e anti-espontaneísta de poesia do que a escrita automática. Pela mesma razão, ele não podia se conformar com o rótulo de “poeta marginal”, de modo que, como asseverou numa mesa-redonda, em 2002:
Sinto-me muito preso, muito mal, DESASSOSSEGADO, em uma situação de desamparo, na categoria anos 70 ou poesia marginal. Nunca me senti bem, eu acho que é um presilhão, acho uma camisa-de-força, sempre achei, sempre declarei.[39]
Em parte, é também certamente em virtude do antinaturalismo e do antiespontaneísmo que, embora a exuberância do seu discurso poético pareça situá-lo no pólo oposto ao da secura da poesia de João Cabral de Melo Neto, ele tivesse o poeta pernambucano como um dos seus mestres, citando-o freqüentemente, mencionando-o no poema “Imagem da onda”[40] e homenageando-o no belíssimo “Lausperene”,[41] onde contrasta a severidade do autor de Uma faca só lâmina, que “esplende em flor”, com a impotência dos poemas-piadas marginais, por um lado, e com a esterilidade dos pseudo-haicais e das produções dos poetas que se deixaram esmagar pela ideologia poética da “concisão”, por outro. A afinidade entre Waly e Cabral reside certamente no fato de que, por desconfiança em relação ao natural e espontâneo, a produção poética tanto de um quanto do outro é extremamente artificial e elaborada.
Mas, se é verdade que essa observação ajuda a entender melhor a poesia de Waly, também, para o mesmo fim, é importante considerar aquilo que o separava de Cabral. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que eram diferentes as razões pelas quais cada um deles rejeitava o natural e espontâneo. Segundo Cabral, na origem da sua atitude estava
o desgosto contra o vago e o irreal, contra o irracional e o inefável, contra qualquer passividade e qualquer misticismo, e muito de desgosto, também, contra o desgosto pelo homem e sua razão.[42]
É evidentemente por isso que lhe repugna a idéia da inspiração. Entre os que defendem tais elementos encontram-se, segundo ele,
os mórbidos, os místicos, os invertidos, os irracionais e todas as formas de desespero com que um grande número de intelectuais de hoje fazem sua profissão de descrença no homem.[43]
Ademais, tudo o que vem espontaneamente lhe “soa como eco da voz de alguém”.[44] Contra o espontâneo, Cabral se arma com um planejamento minucioso do poema a ser produzido. No limite, o que ele deseja é munir-se, antes mesmo de começar propriamente a escrever, de uma espécie de projeto ou planta do futuro poema. Os poetas que admira “se impõem o poema, e o fazem geralmente a partir de um tema, escolhido por sua vez, a partir de um motivo racional”.[45]
Waly nada tem a ver com esse racionalismo. Já mostrei acima que ele, ao contrário, desconfia até mesmo dos princípios fundamentais da lógica formal, que são o da contradição e o da identidade. Todo o seu movimento é contra o dado, contra a identidade e contra a repressão da possibilidade da contraditoriedade. Não é em defesa da racionalidade, mas da liberdade que Waly rejeita o imediato e a natureza.[46] Antes voluntarista do que racionalista, o que ele quer, em última análise, é, através da poesia, fazer e refazer incessantemente a si próprio. Por isso, ele rejeita tanto o imediato quanto toda regra dada. Mesmo regras que ele se impusesse a si próprio, à maneira de Cabral, seriam, no limite, inaceitáveis, pois, dado que a sua liberdade se renova a cada instante, ela não admitirá amanhã ser tolhida pelas regras que se tiver imposto hoje. Assim, do mesmo modo que a priori rejeita para si o uso de qualquer forma fixa, seria para Waly impossível planejar o seu poema à maneira de João Cabral. Seu movimento é, ao contrário, no sentido de “desprogramar bulas e posologias prévias”.[47] Sua arte consiste, portanto, em tomar a matéria-prima dada por um primeiro esboço, que, como todo dado, torna-se objeto da sua desconfiança, e submetê-la a um trabalho obsessivo de elaboração e polimento. Através de procedimentos de deslocamento, distorção, estranhamento, estilização etc., nos quais é capaz de empregar todos os recursos retóricos e paronomásticos que lhe convenha – “sinédoques, catacreses, / metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros…”, como enumera em “Fábrica do poema”[48] – ele freqüentemente obtém um resultado de uma artificiosidade brilhante, que talvez se possa qualificar de barroca. O poema “Açougueiro sem cãibra” assim descreve esse processo:
…
Açougueiro sem cãibra nos braços.
Acontece que não acredito em fatos,
magarefe agreste,
pego a posta do vivido,
talho, retalho, esfolo o fato nu e cru,
pimento, condimento,
povôo de especiarias,
fervento, asso ou frito,
até que tudo se figure fábula.[49]
…
Também ao contrário de Cabral, Waly não teme o eco da voz do outro: partindo, ao contrário, do princípio, exposto em “Câmara de ecos”, de que
Agora, entre o meu ser e o ser alheio
a linha de fronteira se rompeu,[50]
ele é capaz de sair do seu caminho mais direto para buscar ecos alheios, que passa a incorporar, de modo a realçar ainda mais a artificiosidade do poema. É assim que, em “Canto de sereia”, ele pede “que Eco se metamorfoseie em fonte”.[51]
Finalmente, não tenho a menor dúvida de que ele – que se dizia “um pária da família humana”[52] – não hesitaria em se identificar perfeitamente com “os mórbidos, os místicos, os invertidos, os irracionais e todas as formas de desespero com que um grande número de intelectuais de hoje fazem a sua profissão de descrença no homem”, a que Cabral se referia com desgosto.
Estas reflexões sobre Waly terão servido ao seu propósito se tiverem conseguido mostrar ao menos a inanidade dos clichês que se acumularam sobre a sua figura pública. Na mídia, alguns dos adjetivos que mais se empregam a seu respeito são, por exemplo: irreverente, marginal, espontâneo. Começando pelo último, creio ter mostrado que sua poesia foi orientada, ao contrário, por um espírito antiespontaneísta, que resultou numa obra extremamente culta e elaborada. Pelas mesmas razões, é claro que ele tampouco pode ser considerado um poeta marginal.
E quanto à irreverência? Aqui é preciso fazer uma distinção. Usa-se normalmente esse termo de maneira muito vaga, com uma conotação vagamente positiva. “Irreverente” é quem não tem reverência ou respeito. Por um lado, é quem não tem respeito pelo que, não merecendo respeito, é convencionalmente respeitado. Nesse sentido, é claro que Waly era irreverente; como era irreverente, por exemplo, Oswald de Andrade, de quem ele cita, como epígrafe de Tarifa de embarque, a frase “… e parecem ignorar que poesia é tudo: jogo, raiva, geometria, assombro, maldição e pesadelo, mas nunca cartola, diploma e beca”. De fato, toda burrice, caretice, pomposidade etc. era objeto do humor impiedoso de Waly. Além disso, talvez o seu humor fosse mais delicioso ainda quando inteiramente gratuito e absurdo, aniquilando qualquer pretensão à seriedade. Mas às vezes se diz “irreverente” quem não tem respeito por absolutamente nada nem ninguém. Essa é a atitude de pessoas, na verdade, amargas ou azedas, e superficiais, incapazes de fazer distinções de valor. Ora, Waly, como todo poeta, fazia, o tempo inteiro, distinções de valor. Ele respeitava, admirava e manifestava respeito e admiração por muita coisa e muita gente, como, por exemplo, pelos poetas que considerava grandes.
“Todo entendimento começa pela admiração”, dizia Goethe. Espero que a admiração que nutro por Waly Salomão me tenha permitido entender um pouco da sua concepção de poesia, e que tenha conseguido exprimir ao menos um pouco desse pouco aqui. Que o leitor, livre dos lugares-comuns, possa agora, esquecendo também tudo o que acabo de dizer, perambular livremente por entre as falanges das máscaras que povoam os Líbanos de sonho da mente régia de Waly Salomão, um dos poetas mais originais e vigorosos do nosso tempo.
Waly Salomão “diagramado” por Helio Oiticica
[1] SALOMÃO, 1996b.
[2] Idem, 2002.
[3] Idem, 1983, p.9.
[4] Idem, 1972, p.13.
[5] Idem, 1998, p.63.
[6] Idem, 1996a, p.79.
[7] BAKHTIN, 1978, p.99-121.
[8] SALOMÃO, 2002.
[9] Idem, 1972, p.70.
[10] RAIMONDI, 1955.
[11] JOÃO de Salisbury, 1984, cap. 6.
[12] Apud FEUERBACH, p.318, n.128.
[13] Na peça de Calderón, vão diretamente para o céu o Pobre que, pouco antes de morrer, faz um discurso em que amaldiçoa o dia em que nasceu, e a Discreción, que representa o ascetismo religioso, que renuncia ao mundo temporal; vai diretamente para o inferno só o Rico, cujo pecado é amar os prazeres deste mundo.
[14] KLIBANSKY, Panofsky, e Saxl, 1990, p.338.
[15] SALOMÃO, 1983, p.21.
[16] Idem, 2003.
[17] MARX e Engels, 1970, p.635.
[18] SALOMÃO, 1972, p.18.
[19] LÉVI-STRAUSS, 1955, p.203.
[20] SALOMÃO, 1972, p.46.
[21] FOUCAULT, 1972, p.575.
[22] HOLLANDA, 1981, p.73.
[23] SALOMÃO, 1998, p.49.
[24] HÖLDERLIN, 1970, v.II, p.805.
[25] SALOMÃO, 1998, p.86.
[26] Idem, 1998, p.87.
[27] Idem, 1972, p.14.
[28] Trata-se de uma paráfrase que resume as verdadeiras palavras de Descartes, que são: Ut comœdi, moniti ne in fronte appareat pudor, personam induunt: sic ego, hoc mundi theatrum conscensurus, in quo hactenus spectator exstiti, larvatus prodeo.
[29] DESCARTES, 1971-76, p.203.
[30] SALOMÃO, 2000, p.16.
[31] Idem, 1998, p.45.
[32] Idem, 1992, p.12.
[33] Idem, 1996a, p.43.
[34] Idem, 1996, p.36.
[35] Idem, 1983, p.141.
[36] Ibidem, p.138.
[37] Idem, 2000, p.51.
[38] Idem, 1972, p.87.
[39] Idem, 2000.
[40] Ibidem, p.38.
[41] Idem, 1996a, p.23.
[42] CABRAL de Melo Neto, 1995, p.730.
[43] Ibidem, p.730.
[44] Ibidem, p.726.
[45] Ibidem, p.730.
[46] Isso determina também a diferença entre a natureza à qual ele se opõe e a natureza à qual Cabral se opõe. O racionalismo deste faz com que ele, à maneira de um philosophe da Ilustração (anterior ou contrário a Rousseau), exclua a natureza em bloco, humana e não-humana, do círculo das coisas que lhe interessam. Assim, no documentário “João Cabral – Recife-Sevilha”, dirigido por Bebeto Abranches, ele declara que não sente atração por viajar porque não tem o menor interesse em paisagens. Já o voluntarismo de Waly consiste em querer, através da poesia, fazer e refazer incessantemente a si próprio. Para que isso seja possível, torna-se-lhe necessário afirmar que, nele mesmo, a liberdade, e não a natureza, tem a última, senão a única palavra. É, portanto, de si mesmo – e do conceito de si mesmo, logo, do conceito do ser humano – que ele tem que expulsar a natureza. Porém, ao contrário do que ocorre com Cabral, não somente ele não despreza a natureza externa, mas se deleita com ela.
[47] SALOMÃO 1998, p.88.
[48] Idem, 1996, p.35.
[49] Idem, 1998, p.23.
[50] Idem, 1996a, p.21.
[51] Ibidem, p.77.
[52] Idem, 2000, p.31.
OBRAS CITADAS:
bakhtin, Mikhail. Estétique et théorie du roman. Paris: Gallimard, 1978.
cabral de Melo Neto, J. “O cão sem plumas.” In: ———. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, pp. 103-16.
descartes, R. “Cogitationes privatae.” In: adam, C. e tannery, P. (org.). Oeuvres de Descartes. Paris: Vrin, 1971-6.
feuerbach, L. Das Wesen des Christentums. Berlim: Akademie-Verlag, 1956.
foucault, M. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris: Gallimard, 1972.
hölderlin, F. “An die Mutter.” In: Sämtliche Werke und Briefe, vol 2. Munique: Carl Hanser, 1970, pp. 801-2.
hollanda, H. B. de. Impressões de viagem. São Paulo: Brasiliense, 1981.
joão de Salisbury. Policraticus. Editado por ladero, M. A. Madrid: Ed. Nacional, 1984.
klibansky, R., panofsky, E., saxl, F. Saturn und Melancholie. Frankfurt-sobre-o-Meno: Suhrkamp, 1990.
lévi-strauss, C. Tristes tropiques. Paris: Plon, 1955.
marx, Karl e engels, Friedrich. Das Kapital. Berlim: Dietz Verlag, 1970.
raimondi, Enzo. “Introduzione alla letteratura barocca.” In: Enciclomedia Il Seicento. Milão: Opera Multimedia Spa, 1995.
SALOMÃO, Waly. Me segura qu’eu vou dar um troço. Rio de Janeiro: José Álvaro, 1972.
———. Gigolô de bibelôs. São Paulo: Brasiliense, 1983.
———. Armarinho de miudezas. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1992.
———. Algaravias. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996a.
———. Entrevista ao Jornal da Tarde. São Paulo, 04/04/ 1996b.
———. Lábia. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
———. Tarifa de embarque. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
———. “Contradiscurso: Do cultivo de uma dicção da diferença.” Transcrição inédita de conferência feita no Sesc Pompéia em São Paulo, 2002.
———. Entrevista a Heloisa Buarque de Hollanda. Revista Idiossincrasia. Portal Aerograma. <http://portalliteral.terra.com.br/literal/calandra.nsf/0/8C2FDC0E43C76DCD03256CC20068EBFD?OpenDocument&pub=T&proj=Literal&sec=AEROGRAMA>, acessado em 23/9/2003.
