- Literatura policial x literatura criminal
O escritor Rubem Fonseca, recém falecido aos 94 anos, não morreu pelo coronavírus: foi infarto. Isto dito, o relato da morte do homem deve também incluir o relato da morte do escritor que ele foi. Ou que não foi: ao contrário do que parece consagrado, Rubem Fonseca não é o maior autor de literatura policial do Brasil. Porque ele não escrevia livros policiais.
Livros policiais que não são sobre policiais, mas sobre investigações criminais. Haver ou não policiais é opcional. O fundamental é haver um crime e seu desvendamento. A galeria dos grandes solucionadores literários de crimes (Auguste Dupin, de Poe, Sherlock Holmes, de Doyle, padre Brown, de Chesterton, Sam Spade, de Hammett, Philipp Marlowe, de Chandler e Nero Wolf, de Stout) é toda de detetives, não de policiais. Apenas um – e ainda que o maior de todos –, Jules Maigret, de Simenon, pertence à polícia. Nos livros de Rubem Fonseca, salvo as exceções (que são também suas piores obras), há crimes, e mesmo policiais, mas não há investigações. Não se trata, portanto, de literatura policial.
São três os motivos principais de as investigações não existirem.
O primeiro é o crime em si, e não a sua elucidação, ser o centro da narrativa (principalmente nos contos da primeira fase, a melhor).
O segundo motivo é esse crime não precisar ser elucidado. Pois ele já nasce esclarecido. Na verdade, é explícito, autoexplicado e evidente – seja na ação, na intenção ou na autoria. Nasce à luz do dia. Ou da noite, luz pálida, mas suficiente. Pois nos crimes de Rubem Fonseca nada se esconde. A começar de sua natureza psicossocial. Ou melhor, emocional-histórica. Pois aqui não cabem nem a psicologia nem a sociologia, mas sim as emoções mais básicas, como o ódio, a vingança, o desespero, e a história mais óbvia, a da barbárie brasileira. Ela é a verdadeira causa desses crimes. Mas Rubem Fonseca não cria alegorias. Se a barbárie é a causa primeira, a vida individual do criminoso, e também da vítima, são suas causas efetivas. Rubem Fonseca escreve histórias de crimes, criminosos e vítimas. Nem investigações policiais nem alegorias do país, elas são, na verdade, lupas colocadas sobre suas características predominantes. E a primeira delas é a violência. Rubem Fonseca é o grande escritor e descritor da violência urbana brasileira da segunda metade do século XX.
O terceiro motivo de Rubem Fonseca não escrever histórias policiais, como regra (em seus contos), e de haver falhado ao tentar fazê-lo (em seus romances), é não poder haver histórias policias na literatura brasileira. Não por não poder haver histórias com policias, mas por não poder haver histórias sobre investigações policiais.
Para que haja interesse dramático numa novela policial é necessário que exista, no mínimo, além do imprescindível crime misterioso, uma coleção mais ou menos sortida de suspeitos sem culpa formada, sobre os quais nenhuma acusação se poderia formular. Em consequência, continuam soltos, atrapalhando o mais que podem a ação da polícia. O detetive seguirá pistas falsas, embrulhar-se-á, cairá em armadilhas habilmente urdidas. Até que, ao cabo de duzentas e cinquenta páginas, a ação se esgota, os recursos do criminoso esgotam-se, as faculdades inventivas do autor também se esgotam, a nervosa expectativa do leitor já se acha quase esgotada – e então o mistério é esclarecido e o romance acaba. Mas no Brasil as coisas não se passariam assim. Se o romancista não quisesse fazer obra inteiramente falsa, sem qualquer possibilidade de convencer o leitor, deveria criar sua hipótese dramática de acordo com o que de fato aconteceria no caso de um crime real: a polícia começaria prendendo todos os suspeitos. Haveria, quando muito, uma trágica descrição de espancamentos, interrogatórios, torturas físicas e notícias berrantes nos jornais. […] O que dá vida, interesse dramático e consistência à novela policial é um jogo sutil de raciocínio e brilho mental, a luta surda e ágil travada entre o investigador e o criminoso. Como se fosse uma dança, em que os dois se perseguem, se esquivam, se abraçam e se confundem. Vê-se, desde logo, em que impossibilidade esbarraria o romance policial no Brasil e em outros países, nos quais os processos criminais não sejam orientados pelo maior liberalismo, nos quais não se admita, no suspeito, um possível inocente, em vez de nele se pressupor – como é de uso entre nós – um criminoso potencial. […] A novela policial só pode se desenvolver em países cujas instituições políticas e jurídicas se baseiam em normas essencialmente democráticas, isto é, em que haja um verdadeiro respeito pela pessoa humana.[1]
“A novela policial só pode se desenvolver em países em que haja um verdadeiro respeito pela pessoa humana”: daí a literatura de Rubem Fonseca ser, afinal, sobre o generalizado desrespeito brasileiro à pessoa e à vida humanas. Como na famosa síntese de Alfredo Bosi, a prosa sobre uma realidade brutal só poderia ser “brutalista”.
Aqui passamos do tema para a forma – que no grande escritor que era Rubem Fonseca se alimentam mutuamente. A escrita sobre fatos brutais pairará acima deles, distanciada, como em um relatório oficial ou uma reportagem de jornal, a não ser que deles se aproxime até se impregnar, como um lençol do sangue de um cadáver: a escrita nascida de uma realidade brutal tem de ser bruta, se não quiser ser apenas sobre ela, mas sim como ela. Nas mãos de um artista superior a arte não imita a vida, a reproduz. Não como uma imagem refletida em um espelho, mas como a sombra destilada de um corpo. A prosa bruta de Rubem Fonseca – bruta no vocabulário das periferias urbanas e sociais, na construção de imagens e descrições duras e diretas, na verbalização de ações cruas e cruéis, no ritmo rápido, seco, entrecortado – é sua grande contribuição à literatura em língua portuguesa. E à reprodução literária da selvagem realidade brasileira.
Apesar de tudo, muito se falará nestes dias do “grande escritor policial”. E também muito serão citadas as suas piores obras, como Agosto, romance “histórico” sobre a tentativa de assassinato de Getúlio Vargas, e Bufo & Spallanzani, em que Rubem Fonseca, embalado pelo mais que merecido sucesso de público e crítica de seus primeiros e fundamentais livros de contos (A coleira do cão, Lúcia McCartney, Feliz ano novo, O cobrador), se deixa levar pela dupla tentação ou ilusão dobrada de se tornar um romancista e, ainda, um romancista erudito (Bufo & Sapallanzani parece escrito para embasbacar basbaques com sua vasta erudição de enciclopédia). Mas ele não era nem um romancista nem um erudito (muito menos, portanto, um romancista erudito).[2]
- Conto x romance (ou contista x romancista)
Para o chamado público leitor, a diferença entre um conto e um romance é o número de páginas. Confusão ou ilusão que apenas piora pela inclusão de um terceiro elemento, a novela. Mas tratando-se de linguagem, o tamanho não é definidor. A miniatura de uma escultura não é uma pintura. A cópia ampliada de uma pintura não é uma canção. Linguagens são linguagens.
Resumidamente, um conto é uma prosa de ficção que se centra em uma única ação-situação. Ela pode ser descrita em uma ou duas páginas, como faz muitas vezes Cortázar, ou em muitas dezenas, como Kafka em A metamorfose. Já um romance é a biografia fictícia de uma pessoa inexistente – e, portanto, também da trama de relações com seus pares igualmente ficcionais. Não é por outro motivo que incontáveis romances trazem o nome do personagem “biografado” no título: Don Quixote, Brás Cubas, Ana Karênina, Irmãos Karamazov, Madame Bovary. Se o personagem principal de um conto é uma ação-situação (como a metamorfose que dá título à obra de Kafka), e o de um romance é uma biografia (ainda que fictícia), eles nada têm em comum. Contos não são romances curtos; romances não são contos longos.
Já a novela literária, ou seja, como gênero literário, não existe. A novela literária não é um intermediário entre um conto e um romance. Mesmo porque, um intermediário não se define por si próprio, mas apenas em relação a outros. Logo, não se define. De fato, não existe nenhuma definição da novela literária como gênero. Novela é apenas um nome cujo uso e abuso, inclusive por escritores, não são suficientes para torná-la uma coisa real (pode-se nomear o unicórnio e a água seca, porque a página tudo aceita, mas os fatos não).
Não há lei literária que impeça um contista de ser também um romancista. Na própria língua de Rubem Fonseca, e em seu próprio país, há o exemplo maior de Machado de Assis. Mas Machado é, neste particular, a exceção que confirma a regra. O maior contista russo e o maior contista francês, Tchecov e Maupassant, não foram romancistas. Os maiores romancistas não costumam ser (grandes) contistas. O enorme contista que foi Kafka falhou em concluir seus romances, que restaram inacabados, não por falta de tempo vital (morreu aos 41 anos), mas de domínio da linguagem (ao mesmo tempo em que era o mestre absoluto do conto moderno em língua alemã). Rubem Fonseca é o grande contista contemporâneo brasileiro (aliás, um dos pouquíssimos, em meio a incontáveis mediocridades, tanto por tentar imitá-lo quanto por não conseguir mimetizar minimamente a cruenta realidade brasileira para além da profusão de palavrões e outros cacoetes). Mas não pode ser incluído entre os grandes romancistas de qualquer período. Pois ele não foi absolutamente um grande romancista. Enquanto seus contos são obras-primas do domínio e mesmo do virtuosismo do gênero, seus romances têm estrutura flácida e trama esgarçada, que tentam se compensar por uma linguagem descomedida, ou kitsch (com destaque para seu recheio enjoativo de eruditismos).
Resta que um grande artista se mede por suas maiores obras, como um grande atleta por seus recordes. As realizações menores de ambos devem ser simplesmente desconsideradas (a não ser para efeito de registro, logo, não de definição). Rubem Fonseca é um dos maiores contistas (portanto, um dos maiores escritores) da língua portuguesa de todos os tempos.
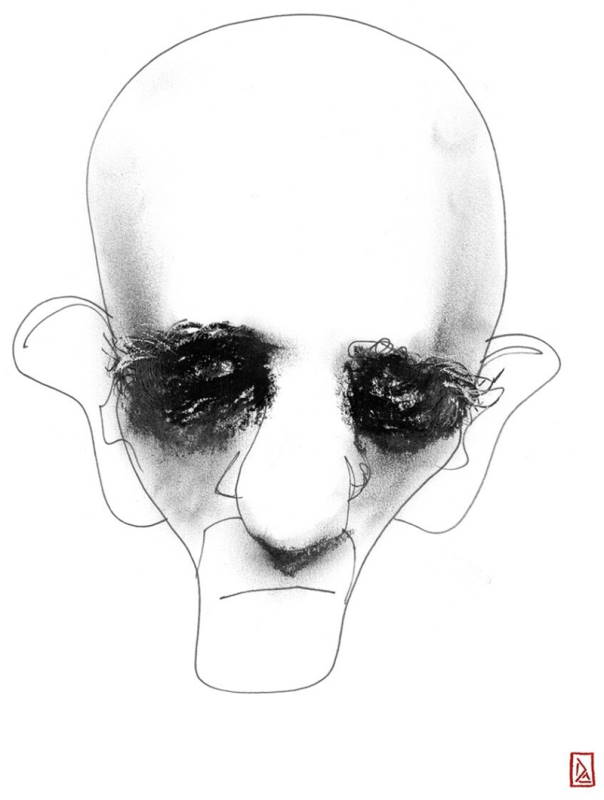
Salvo de danilo-goncalves.tumblr.com
[1] Luís Martins, “Introdução”, in Obras-primas do conto policial, São Paulo, Livraria Martins Editora, 1964, pp. 3-9. Por obra do acaso, um dia depois da morte de Rubem Fonseca, em 15/04/2020, morreu na mesma cidade do Rio de Janeiro Luiz Alfredo Garcia-Roza, autor que alguns críticos, não convencidos com a classificação equivocada de Fonseca com escritor policial, quiseram então adornar com a mesma etiqueta. O problema é não ser, mais uma vez, verdade. O psicanalista Garcia-Roza escrevia romances de investigação psicológica, mais do que verdadeiramente policial. O Brasil não deixou de ser o que Luís Martins resume em sua “Introdução”: um país de não-cidadãos e, portanto, sem democracia. Daí, sem polícia e judiciário (e polícia como braço armado do judiciário) que mereçam o nome. E que possibilitem a existência do gênero literário.
[2] Outra coisa que muito se dirá sobre Rubem Fonseca nestes e em outros dias é que ele apoiou o golpe de 64. De fato. Ele foi integrante do Ipes (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais), “constituído em 1962 por grupos empresariais preocupados com os rumos socializantes do governo João Goulart. Uma das empresas era a Light, gigante da energia elétrica cujo setor de relações públicas era então dirigido por Fonseca. Entre outras atividades, o instituto editava livros e produzia filmes de propaganda anticomunista. O Ipes daria apoio total ao golpe de 1964” (https://integras.blogspot.com/2009/12/o-maldito-passado-de-rubens-fonseca.html?m=1&fbclid=IwAR2yu3lp9kmMlSwq9XrWF9bJyqU77dB2FytJ3VHuW1xvlDZ46MhCta-wFwo). Golpe que o consenso histórico hoje refere como “civil-militar” – e não simplesmente como “golpe militar”. Porque importantes lideranças políticas, não apenas de direita, mas também do então chamado “centro democrático”, apoiaram o golpe em 1964, contra o governo Goulart (no contexto mundial da Guerra Fria contra a expansão geopolítica da esquerda), ainda que não necessariamente apoiassem depois a instauração da ditadura, o que só aconteceria em 1968, com o AI-5 (até então, não existia censura, o Congresso funcionava, governadores eram eleitos – não havia ainda uma ditadura). Em suma: Rubem Fonseca apoiou o golpe de 1964, mas não, de forma inquestionável, a ditadura vigente entre 1968 e 1985. Não se explicita isto, aqui, para tentar isentá-lo daquilo que os fatos já o isentam. Mas para esclarecê-lo. E ainda que Fonseca houvesse, afinal, apoiado inequivocamente a ditadura, isto nada diria sobre a qualidade de sua obra. Bach era um homem religioso – mas a grandeza de sua arte não está em sua temática parcialmente sacra (nem é por ela comprometida), e sim em sua linguagem musical inteiramente complexa. Não se conhece a posição política de Homero (ainda que se possa deduzi-la do fato de seus heróis pertencerem todos à aristocracia – até porque ele viveu antes do desenvolvimento da democracia grega). Sabe-se, por outro lado, quais as simpatias ideológicas de Dante nas lutas entre guelfos e gibelinos na Florença dos séculos XIII e XIV – mas isto nada esclarece, pois tais disputas não nos dizem mais respeito. Enfim, como disse Oscar Wilde, a única moralidade de uma obra de arte é sua qualidade. Grandes obras são perfeitamente morais; obras ruins, imorais. O resto é ruído (e ruídos são ruídos, não importa se vêm da direita, da esquerda, de cima ou debaixo).