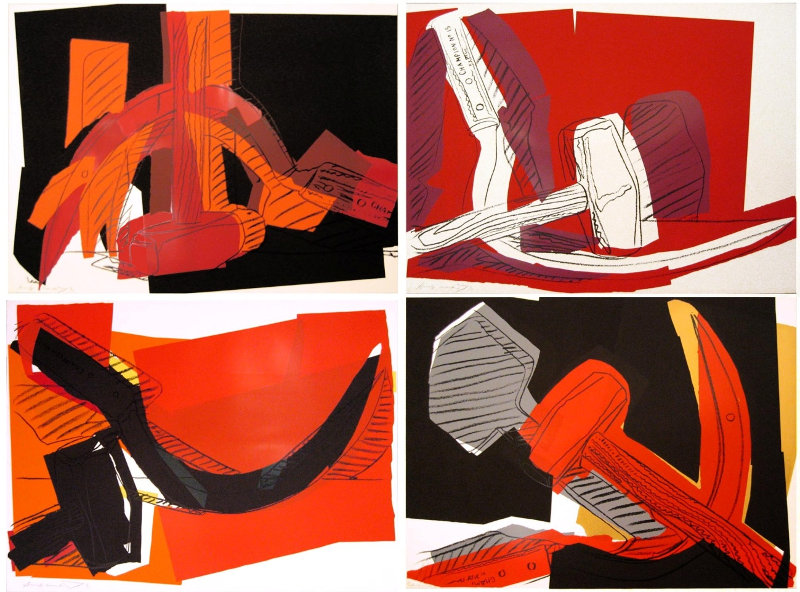
Marcos Nobre é professor de filosofia no IFCH-Unicamp e pesquisador do Cebrap. Possui graduação em ciências sociais, mestrado e doutorado em filosofia pela USP, e pós-doutorado pela Universitat Frankfurt an Main − Johann Wolfgang Goethe. É autor, entre outros, de Dialética negativa (São Paulo, Iluminuras, 1998), Teoria crítica (Rio de Janeiro, Zahar, 2004) e Choque de democracia − razões da revolta (São Paulo, Companhia das Letras, 2013), obra pioneira em analisar em profundidade as manifestações de julho, ao mesmo tempo em que as insere na narrativa histórica brasileira.
Sibila: O senhor concorda com a tese (defendida por alguns autores de esquerda) de que em 1964 havia ameaças reais ao poder e ao statu quo vindas da esquerda? Paradoxalmente, este não é o argumento central dos que justificam o golpe?
Nobre: Na década de 1960, contam-se nos dedos as pessoas e os grupos organizados que entendiam que a prioridade política deveria ser o fortalecimento das instituições desenhadas pela Constituição de 1946. A alternativa colocada era a de uma revolução socialista ou de um golpe de Estado militar. A disputa entre estes dois campos em nenhum momento se colocou em termos de um compromisso (mesmo que meramente tático para os dois lados, não importa) com a consolidação da ordem democrática inaugurada pela Constituição de 1946. Reduzida a uma opção entre a abolição da ordem de 1946 por uma revolução socialista ou por uma ditadura militar, a disputa se mostrou inteiramente desigual a favor da última. Note-se, aliás, que esse mesmo erro trágico de avaliação foi cometido, por exemplo, em 1935, quando Luiz Carlos Prestes convenceu a si mesmo e a um bocado de gente que as condições estavam dadas para uma revolução comunista no Brasil naquele momento. Como em 1935, parece-me bem pouco plausível a tese de que, em 1964, as forças favoráveis a uma revolução socialista tivessem organização e massa crítica suficiente para ameaçar de fato a ordem.

Sibila: Alguns consideram que sem a guerrilha de 1969 a 1975, sem a tortura e outros fatores (governo Jimmy Carter), a presença dos militares se prolongaria indefinidamente. O senhor concorda com esta tese? Ela não omite os embates dentro da cúpula militar, justamente quanto à necessidade da redemocratização?
Nobre: Concordo com a ideia de que as dissensões no meio militar tiveram um peso considerável nos rumos da ditadura e da redemocratização. Um episódio emblemático e decisivo desse fato me parece ser a sucessão do general-presidente Médici, em que o general Orlando Geisel manobrou de maneira muito hábil o Alto Comando para conquistar maioria para a indicação para o posto de seu irmão, o general Ernesto Geisel. Nesse episódio fica clara a diferença entre uma ditadura como a de Vargas e a ditadura militar: quando são as Forças Armadas (e o Exército, em especial), quando é uma instituição que deve garantir diretamente o regime autoritário, a instituição ela mesma passa a funcionar como um partido, com o surgimento de facções que se enfrentam e estabelecem compromissos para sustentar a continuidade da própria ditadura. Como também se enfrentaram e estabeleceram compromissos quando se tratou do projeto de controlar a própria transição para a democracia.

Sibila: A respeito dos famosos “excessos” dos aparelhos de esquerda e do Estado: o assassinato de Henning Boilesen, por exemplo, foi “excessivo” ou “justo”? Pode uma execução extrajudicial ser justa? Se o for, quando praticada pela esquerda, não o será também quando praticada pelo aparelho de Estado?
Nobre: Uma declaração de princípios precisa ser feita aqui: crimes praticados mediante utilização do aparelho de Estado jamais poderão ser colocados em pé de igualdade com crimes praticados entre cidadãs/os. O segundo tipo de crime é uma violação da lei; o primeiro é uma violação da legalidade enquanto tal, uma supressão do Estado de Direito. Dito isso, a expressão “execução extrajudicial” é própria do direito civil e comercial e nada tem que ver com o contexto da ditadura. Se “execução” quiser dizer aqui “pena de morte”, a expressão é ainda mais inadequada, já que não existe tal pena no direito brasileiro, não podendo ser “judicial” em nenhum caso. Como foi mencionado o nome de Boilesen, um entusiástico apoiador civil da ditadura, cabe aqui outra observação. Se me for permitida uma citação de um texto de jornal publicado em 2008 sobre a responsabilização de agentes criminosos durante a ditadura, eu diria novamente o seguinte a esse respeito: “distinguindo militares de criminosos, será possível finalmente retirar de circulação a expressão ditadura ‘militar’. Não só porque as Forças Armadas vão poder enfim olhar a sociedade brasileira de frente outra vez, sem serem confundidas com arbítrio e violência, mas também porque deixar para trás a denominação ‘ditadura militar’ vai revelar com clareza os muito mais numerosos beneficiários e colaboradores não-militares da ditadura. Que também não foram ainda declarados responsáveis por nada na ditadura que sustentaram com tanto zelo e empenho”.

Sibila: Paris e Londres eram as referências principais. Grosso modo, uma parte dos intelectuais seguia Paris (o campo da esquerda), outra, Londres (o campo da contracultura). A “linha londrina” prevaleceu na cultura brasileira? Isso tem relação com 1964?
Nobre: Há explicações bastante diferentes para o exílio em cada uma dessas cidades. O Brasil até a década de 1970 foi, em termos intelectuais, uma colônia francesa, o que colocava Paris de saída como destino preferencial. Esse movimento foi muito favorecido, além disso, por uma política de asilo da França generosa em relação a cidadãs/os brasileiras/os. Por fim, mas não por último, o maio de 1968 foi e continua a ser uma referência política viva. Também para a própria cena político-cultural londrina da década de 1970. Londres já tinha sido palco de protestos importantes, antes mesmo da França. Mas o maio de 1968 abriu caminhos para a intervenção cultural antes bloqueados ou desconsiderados como campos de batalha legítimos da ação transformadora. De fato, foi a cena londrina – especialmente a musical – mais do que qualquer outra a que abriu avenidas nessas novas brechas de intervenção. Ligada umbilicalmente à gigantesca industrial cultural dos EUA por laços tão pronunciados quanto os Beatles ou os Rolling Stones, Londres conservou ao mesmo tempo, como talvez nenhuma outra cidade naquele momento, espaços únicos de experimentação, especialmente em termos musicais. Não é por acaso, portanto, que tenham sido músicos de vanguarda que procuraram o exílio em Londres, brasileiros entre eles. Mas o imaginário do maio de 1968 me parece ter sido, aí também, decisivo. Como a força desse imaginário (como de qualquer imaginário, aliás) está em ter muitas e várias versões possíveis em termos de produção cultural e de atuação política, foram também diferentes e várias as versões dele trazidas para o país conforme se tenha vivido o exílio em Paris ou em Londres, por exemplo. Diferenças que são de ênfase, mas nem por isso menos importantes e cheias de consequências também para os embates da redemocratização brasileira.

Sibila [as próximas perguntas foram agrupadas e assim respondidas pelo entrevistado]: João Cabral, em duas conferências de 1952 e 1954, já discorria sobre o problema do moderno distanciamento do público de poesia. Mas durante o regime militar livros como Poema sujo, de Gullar, tiveram alguma popularidade, no contexto de certa efervescência político-cultural reativa. Houve então melhora ou piora, em relação à situação descrita por Cabral? Elas se diluíram ou se acentuaram com a redemocratização à brasileira?
Sibila: À época do golpe, não havia no Brasil um público leitor de massa nem um público médio de literatura “média”, de mercado. Hoje este público está em formação e, segundo os otimistas, em ascensão, mas em detrimento da antes influente intelligentsia. O senhor concorda com esta avaliação, que parece seguir certo modelo brasileiro de se ganhar por perdas?
Sibila: O golpe de 64 aconteceu em um país ainda predominantemente agrário, em que persistia uma arte popular, ao lado de regionalismos literários e de movimentos de vanguarda nos centros principais. Tudo isso acabaria fatalmente com o advento da cultura de massa, da globalização e da “era da informação”, como no resto do mundo, ou, no caso do Brasil, em que tal se deu no contexto do regime militar, da censura, da perseguição a criadores e criações, isso foi ainda mais fatal, nos dois sentidos?
Nobre: A modernização acelerada sob o autoritarismo fez com que um país aproximadamente dividido ao meio entre população rural e urbana em meados da década de 1960 se tornasse, vinte anos depois, em meados da década de 1980, um país com um terço de população rural para dois terços de urbana. Sabemos ainda pouco sobre esse que é o mais importante processo de transformação social do país no século XX. Podemos apenas ter uma pálida ideia dos efeitos dessa urbanização acelerada na vida cotidiana, em todas as suas dimensões, do seu significado em termos da quebra de vínculos tradicionais de sociabilidade etc. Sobretudo, é muito difícil entender os seus efeitos do ponto de vista da elaboração simbólica, das maneiras pelas quais todo esse processo conduziu a novos padrões de comportamento e de interação social. Os estragos causados por uma ditadura demoram décadas para serem reparados. Ainda mais no caso de uma ditadura tão longa como a brasileira. Mas o estrago provocado pela ditadura no caso do processo de acelerada urbanização é irreparável. Porque a democracia permite que transformações de grande magnitude sejam elaboradas publicamente, sejam objeto de debate e de ação política, permitem o confronto de posições antagônicas. A democracia permite resistir a barbaridades e crimes urbanísticos antes que sejam perpetrados. A ditadura permitiu que esses crimes e barbaridades fossem livremente perpetrados e devemos a isso em grande medida o estado lamentável das cidades. A ditadura reprimiu toda a energia social resultante dessas transformações, impedindo que uma geração inteira tivesse acesso a meios públicos e democráticos de autocompreensão, a começar pela negação do acesso à escola. Não bastasse isso, a ditadura chancelou ainda a passagem de um país analfabeto para um país integrado pela televisão, única referência coletiva disponível no período. Quando se fala em modernização autoritária, é de coisas tão fundamentais como essas que se trata.
Sibila: Como pode, se pode, a literatura contemporânea voltar a ter alguma influência cultural? O período do regime militar ficará na história como seu último momento de presença forte (vide Rubem Fonseca), apesar de tudo? Como o senhor vê o rebaixamento cultural brasileiro hoje? Ele tem causas em 1964? Ou na civilização global do espetáculo?
Nobre: Cabe aqui um pedido de pausa para reflexão. “Rebaixamento cultural” em relação a que, exatamente? O entretenimento é um aspecto da cultura do século XX que está se modificando velozmente. Basta pensar na expansão da internet em suas múltiplas dimensões, por exemplo. A experiência de ver TV não tem hoje rigorosamente nada que ver com a imagem da família monogâmica heterossexual sentada na sala depois do jantar, por exemplo. Aliás, é difícil vislumbrar futuro para a TV tal qual a conhecemos. Quero dizer com isso que só de longe as novas formas se parecem com o entretenimento do século XX, irmão siamês do trabalho fordista. Dito isso, as novas estruturas de percepção parecem poder levar tanto a uma elaboração crítica em novas formas artísticas como a formas de aceitação acrítica e meramente adaptativa da disciplina perceptiva própria do mundo atual. De qualquer maneira, parece prudente desconfiar de certidões de óbito prematuras. Como cabe, de maneira geral, desconfiar de análises unívocas. Análises complexas e frutíferas costumam descortinar tendências ambíguas. Sem ambiguidade não há arte. Muito menos teoria digna do nome. Menos ainda política, no melhor sentido da expressão.

Sibila: Por que parece não haver mais condições para uma arte crítica no Brasil? Trata-se do “espírito da época”, incluindo certa “demissão da crítica”, em grande parte mercadologizada, ou o modelo social e econômico brasileiro é parte da resposta?
Nobre: Estendo meu pedido de pausa para reflexão também para esta pergunta. Não me parecem unívocas as tendências seja rumo a uma elaboração artística crítica da experiência no presente, seja para seu rebaixamento meramente adaptativo. O que se pode dizer, de um lado, é que o momento do país é de uma interessantíssima e nova efervescência política. Se tudo isso vai ou não se expressar em achados artísticos densos e inovadores, é questão em aberto. De outro lado, é verdade que há um sólido bloqueio intelectual para a elaboração do novo momento da vida do país. Dou o nome de “paradigma da formação” a essa maneira caduca de compreender o momento presente e convido quem quiser saber mais sobre isso a ler o artigo que trata do assunto.
Sibila: Desde os governos FHC e Lula, passando por Dilma, há uma proclamada ascensão econômica das classes mais baixas, mas restrita ao consumo, e excluindo os demais fatores da cidadania moderna, como a educação. Trata-se de mais um aggiornamento da “modernização conservadora” à brasileira?
Nobre: Pela primeira vez desde a Independência, o país tem algo como três décadas ininterruptas de democracia. Quase todo o século XX foi vivido sob coronelismo e/ou ditaduras abertas. Os menos de dezenove anos de interregno democrático – entre 1945 e 1964 – foram manchados por fatores como a exclusão da imensa maioria (a população analfabeta, que não tinha direito de voto), a restrição à organização legal de partidos comunistas e as transições presidenciais críticas ou mesmo traumáticas, sob a permanente ameaça de golpe. Ou seja, na minha visão, o mais importante e urgente é entender o que é esse específico conservadorismo brasileiro sob a democracia. Prolongar uma linha que ligaria o conservadorismo da nova modernização brasileira ao passado largamente autoritário do país, como se se tratasse da mesma coisa, é perder o que há de específico do momento presente. De minha parte, no livro Imobilismo em movimento,1 procurei circunscrever esse conservadorismo especificamente democrático com a noção de “pemedebismo”. E procurei mostrar que a democratização em curso desde os anos 1980 paulatinamente superou o “nacional-desenvolvimentismo”, que, de fato, pode ser tomado como uma linha de continuidade entre momentos históricos muito diferentes entre si, desde a década de 1930 até a de 1980. Chamo de “social-desenvolvimentismo” o modelo de sociedade próprio da nova modernização, um modelo de sociedade projetado pela Constituição de 1988 e moldado ao longo do tempo por conflitos de toda a ordem, desde movimentos sociais até decisões do Supremo Tribunal Federal. Todo o problema me parece estar em distinguir os potenciais e os bloqueios à emancipação presentes nessa nova modernização. Colocá-la sem mais em continuidade com o nacional-desenvolvimentismo, como se se tratasse de uma mesma modernização, não permite ver a novidade e a especificidade desse novo modelo de sociedade.
Sibila: As atuais fragilidades do Poder Judiciário, do Ministério Público e da polícia decorrem em parte da impunidade dos agentes de 1964, que teria resultado, entre coisas, no continuísmo de indivíduos, práticas e mentalidades?
Nobre: Uma resposta poderia surgir de uma mudança de ângulo: se a intensidade, o ritmo e a velocidade da democratização da sociedade tivessem sido maiores, certamente instituições como o Poder Judiciário, o Ministério Público e a polícia teriam se democratizado (e se fortalecido democraticamente) o suficiente para que agentes estatais e paraestatais que praticaram crimes durante a ditadura tivessem sido já responsabilizados.
Sibila: Se as mentalidades são prisões de longa duração, pode-se afirmar que há uma característica histórica dominante na mentalidade brasileira? Qual?
Nobre: A mentalidade e a longa duração pensam apenas a continuidade, nunca a ruptura. Ou, mais exatamente, pensam as rupturas sempre como momentos de uma continuidade mais profunda, que as englobariam e que lhes dariam sentido. Isso dá, a meu ver, em uma noção rebaixada de ruptura, que se torna refém da continuidade. Ao mesmo tempo, a continuidade ela mesma é estabelecida de maneira acrítica, sem que se discuta seu sentido para o presente histórico. É isso o que está em jogo a cada vez, entretanto. Em minhas respostas nesta entrevista, por exemplo, insisti na cesura representada pela década de 1980, pela democratização na história do país, pela Constituição de 1988. Pela simples razão de que acredito que a determinação de rupturas e continuidades deve ser feita segundo as oportunidades de emancipação do presente histórico, como etapa da modernidade e seu projeto de libertação. Se a oportunidade de emancipação aberta agora é a da radicalização e do aprofundamento da democracia, é ela que deve guiar os esforços teóricos e práticos de quem se empenha em aproveitá-la. Isso é uma elaboração consciente da ruptura. É a lógica das rupturas que deve orientar o estabelecimento de continuidades. E não o contrário.
[include-page id=”11046″]